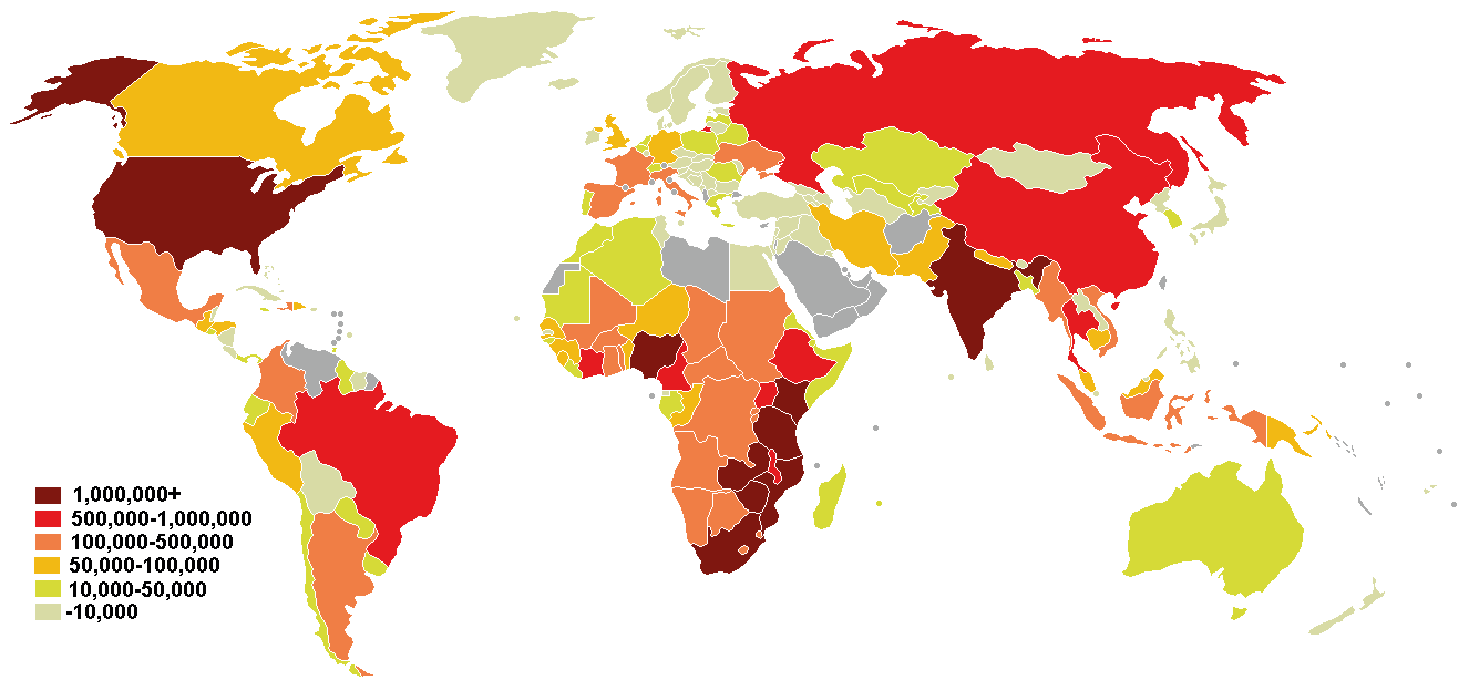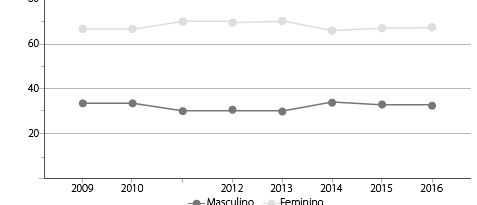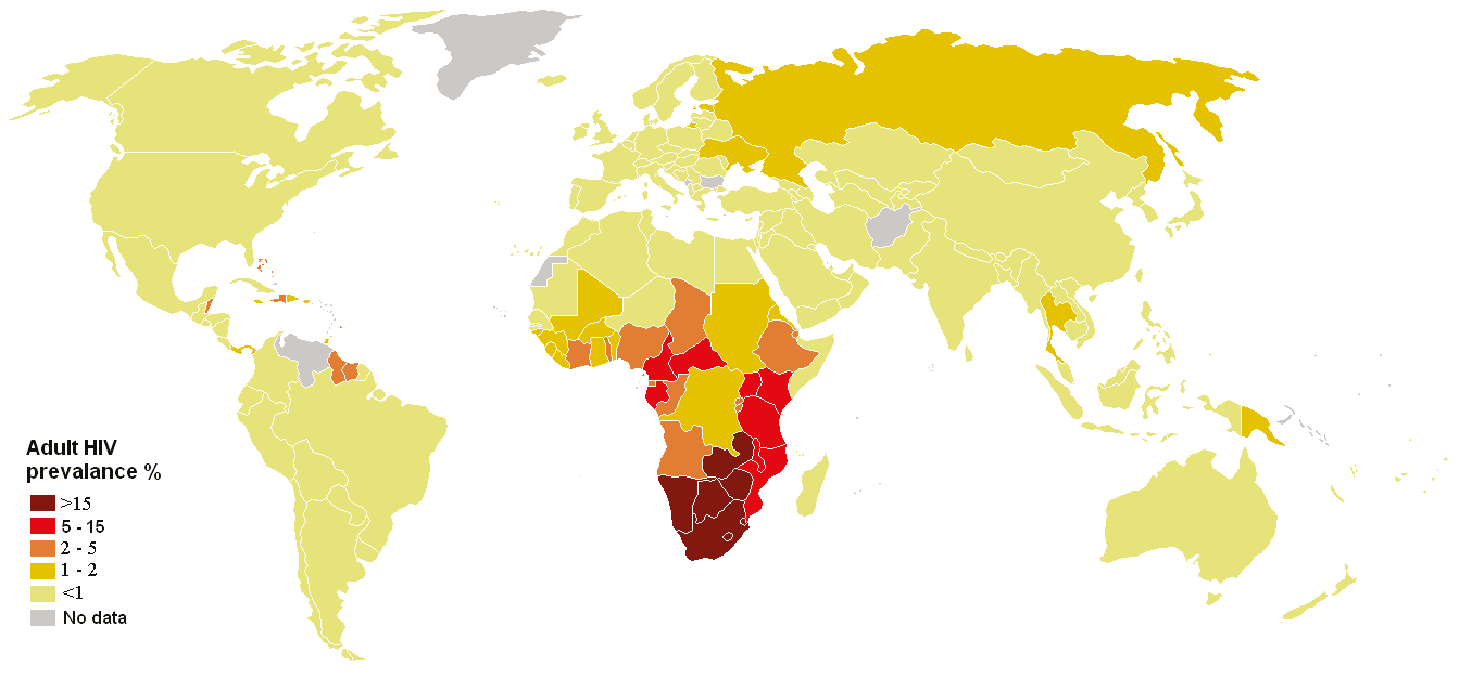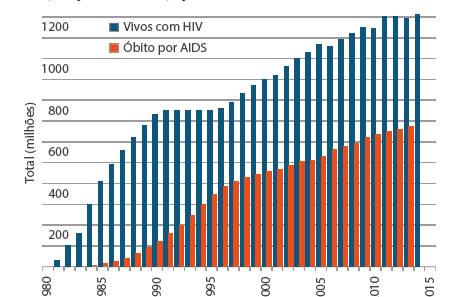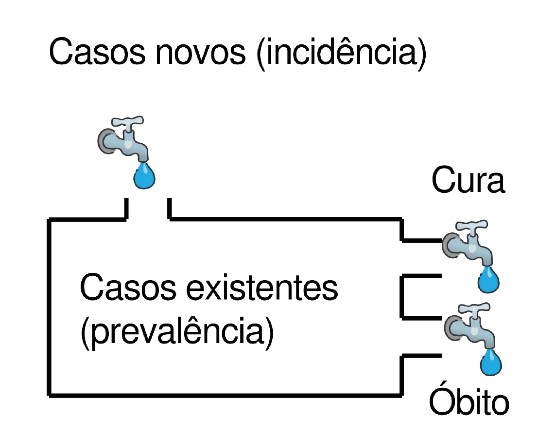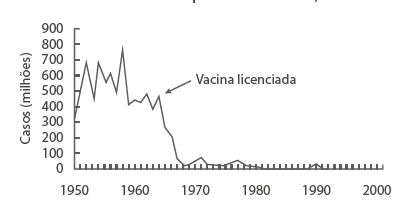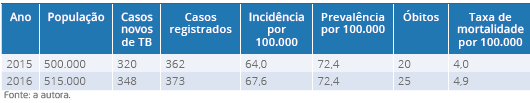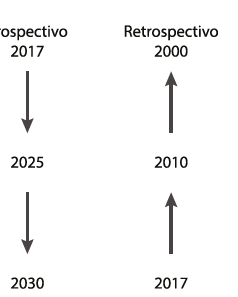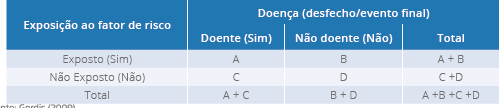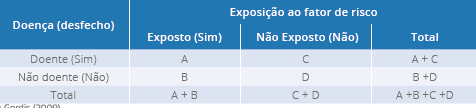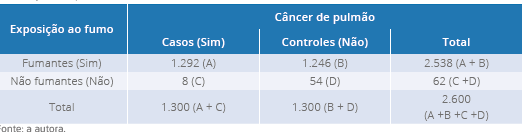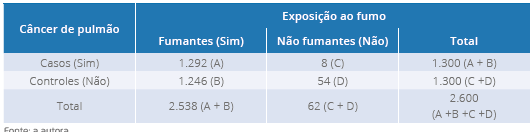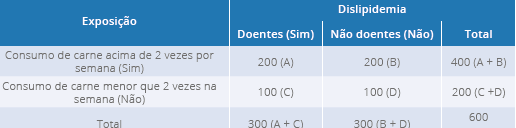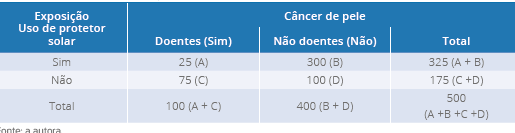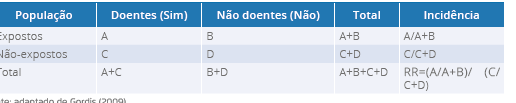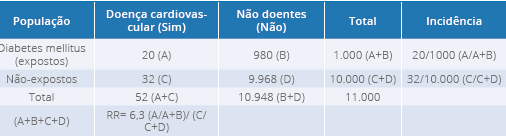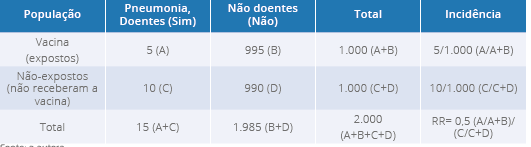Para verificarmos a associação entre um fator de risco e uma doença, podemos utilizar as
medidas de risco e de probabilidade de um evento ocorrer após a exposição a um fator de
risco. Para os estudos retrospectivos do tipo transversal e de caso-controle,
recomendamos o cálculo da razão de chances:
Razão de chances (Odds ratio)
A palavra Odds ratio (OR) vem do inglês odds=pares e ratio= proporção, e
é a divisão
entre a probabilidade de um evento acontecer quando se está exposto ou não a um
fator de
risco
. É uma estimativa do risco relativo, é a chance, a probabilidade (GORDIS, 2009;
BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).
Para compreendermos o cálculo e a interpretação das medidas de OR, razão de prevalência
(RP) e risco relativo (RR), é imprescindível construir uma tabela de contingência,
também chamada de tabela 2 x 2 (GORDIS, 2009; FRANCO; PASSOS, 2011; BENSEÑOR; LOTUFO,
2005). A sugestão é que você sempre construa a tabela colocando a exposição à esquerda
na vertical e o evento final (desfecho: doença, óbito, agravo) à direita na horizontal;
veja o exemplo a seguir:
Tabela 2 - Modelo de tabela 2x2 ou de contingência (exposição x desfecho)
Fonte: Gordis (2009).
A outra forma de se construir a tabela é colocando a doença ou desfecho à esquerda, e a
exposição à direita na horizontal, como no exemplo:
Tabela 3 - Modelo de tabela 2x2 ou de contigência (desfecho x exposição)
Fonte: Gordis (2009).
Observe que os pares concordantes, as respostas Sim e Sim (A) e Não e Não (B),
permanecem no mesmo local em ambas as tabelas, enquanto que os pares que discordam,
respostas Não e Sim (C), Sim e Não (D), mudam de posição na tabela. Isso pode
confundí-los quando forem aplicar as fórmulas das medidas de associação. Por isso, é
sempre importante, entender o cálculo da medida e não só saber aplicar fórmulas.
A
razão de chances
(OR) é, na verdade, a razão entre o produto dos pares concordantes e o produto dos pares
discordantes (GORDIS, 2009; FRANCO; PASSOS, 2011; BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).
Razão de Chances (OR) = A multiplicado por D, dividido pelo resultado da
multiplicação de C e B, logo= A x D/ C x B.
Veja o exemplo de um estudo de caso-controle (dados hipotéticos) em que a exposição ao
fumo foi verificada como fator de associação com o câncer de pulmão. Os casos de câncer
pulmão são aqueles confirmados por exames e clínica, e os controles são indivíduos que
diferem apenas na ausência da doença.
Tabela 4 - Exemplo 1, tabela de contingência de estudo de caso-controle sobre o câncer
de pulmão e exposição ao fumo (dados hipotéticos)
Fonte: a autora.
Assim, de 1.300 pessoas com o câncer de pulmão, 1.296 relataram serem fumantes; e de
1.300 controles, 1.246 também eram fumantes. Neste caso, como se trata de um estudo
retrospectivo, a medida de OR é a mais apropriada para indicar uma associação entre
o fumo e o câncer de pulmão. Logo:
OR= A x D/ C x B= 1.292 x 54/ 1.246 x 8 = 69.768/9.968= 6,99 ≈ 7
A interpretação da OR é que os indivíduos expostos ao risco (fumantes)
apresentaram uma probabilidade sete vezes maior de serem atingidos pelo câncer
de pulmão do que os não-expostos (não-tabagistas). Existe uma probabilidade sete
vezes maior de o evento ocorrer nos expostos em relação a uma vez nos não
expostos. Quando a relação é maior que 1, como nesse caso (7), existe o risco de
quando exposto ao fator analisado, desenvolver-se a doença.
Quando o resultado de OR, RP e RR forem maior que um (1), existe
risco/probabilidade ou chance de o desfecho (doença, óbito o outro evento)
ocorrer nos indivíduos expostos ao fator de risco. O resultado quantitativo
significa quantas vezes o risco da doença ocorrer no grupo exposto é maior do
que no grupo não exposto (PEREIRA, 2003; ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS,
2009; MEDRONHO, 2009; BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).
Veja o mesmo exemplo, mas alocando a exposição e a doença em locais diferentes da tabela
2 x 2:
Tabela 5 - Exemplo 2, tabela de contingência de estudo de caso-controle sobre o câncer
de pulmão e exposição ao fumo (dados hipotéticos)
Fonte: a autora.
O resultado é o mesmo, no entanto, a tabela de contingência é construída diferente.
Outro exemplo hipotético: um estudo transversal verificou o consumo de carnes gordurosas
duas vezes por semana ou mais em indivíduos com dislipidemia (alterações nos níveis de
lipídios no sangue). Veja os resultados hipotéticos:
Tabela 6 - Exemplo 2, tabela de contingência de um estudo transversal sobre a
dislipidemia e o consumo semanal de carne (dados hipotéticos)
Fonte: a autora.
Logo, OR = (200 x 100)/ (200 x 100)= 20000/20000= 1 (um). Neste caso, não há
associação entre o consumo de carne gordurosa, hipoteticamente, em relação às
dislipidemias. O consumo de carne gordurosa não interferiu no indivíduo
desenvolver essa doença, ou seja, a probabilidade da dislipidemia ocorrer em
indivíduos que consomem carne gordurosa mais de duas vezes por semana com
aqueles que se alimentam com menor quantidade é a mesma.
Portanto, quando OR, RP e RR forem igual a 1, não há associação entre a
exposição ao fator de risco e a ocorrência do desfecho final. A chance de o
aparecimento de uma doença é a mesma para o grupo exposto e o não exposto
(PEREIRA, 2003; ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS, 2009; MEDRONHO, 2009;
BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).
Um outro exemplo hipotético: acadêmicos de medicina realizaram um estudo transversal
para verificar se as pessoas que possuíam câncer de pele utilizavam protetor solar (com
filtro solar maior ou igual a 15) no rosto e corpo. Observe o resultado:
Tabela 7 - Exemplo 3, tabela de contingência de um estudo transversal sobre o câncer de
pele e o uso de protetor solar
Fonte: a autora.
Logo, a OR é = (25 x 100)/ (300 x 75) = 2.500/22.500 = 0,11. Neste caso, a OR foi menor
que um, ou seja, a chance do evento ocorrer no grupo exposto foi menor que uma vez. Este
resultado mostra que o uso do protetor solar não é um fator de risco, mas sim de
proteção (PEREIRA, 2003; ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS, 2009; MEDRONHO, 2009).
Para que os clínicos entendam esse valor menor que um, podemos fazer o seguinte
raciocínio:
Se 1 é a chance nula (não há associação), logo 1 – 0,11 (OR) = 0,89 multiplicado por
100 porcento = 89% de chance a menos da doença ocorrer nos indivíduos expostos em
relação ao não expostos.
Portanto, quando OR, RP e RR for menor que um, isso indica a presença de um fator de
proteção e não de risco. Não devemos jamais descrever as medidas de associação com
resultado menor que um desta maneira: a chance de o indivíduo exposto desenvolver a
doença é 0,11 vezes maior que no indivíduo não exposto. Você pode observar que não
faz sentido a afirmação. Portanto, devemos prestar muita atenção nos resultados de
OR, RP e RR, para que se possa interpretá-los de forma correta, evitando a confusão
e a descredibilidade do resultado.